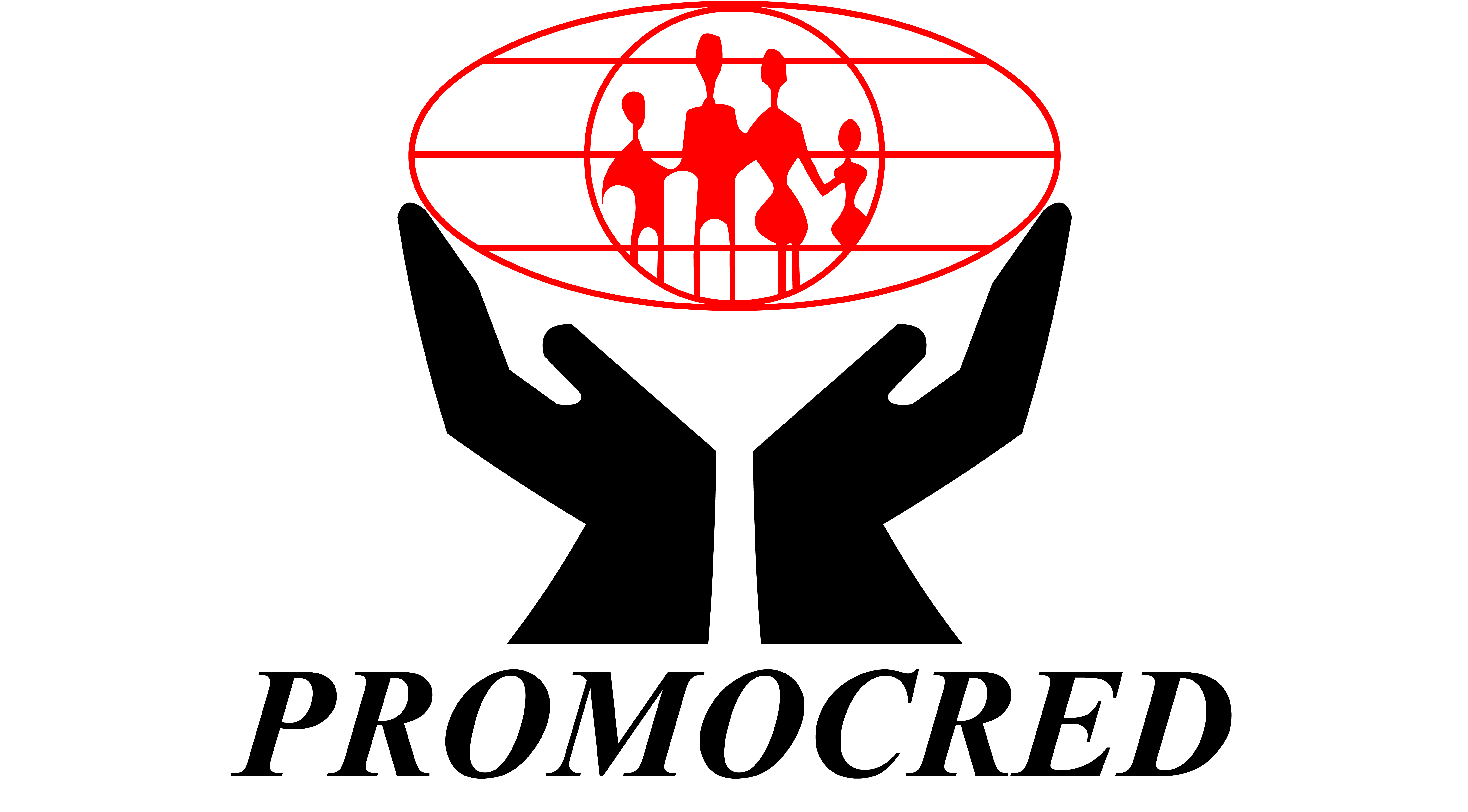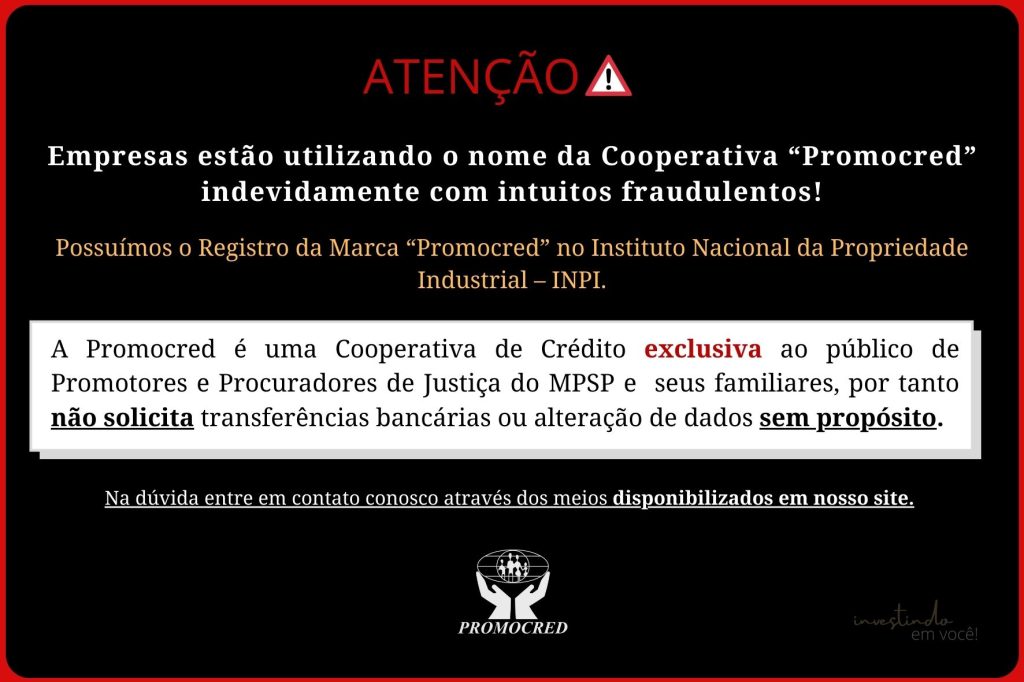Uma conversa com Jungley de Oliveira Torres Neto, Pesquisador das Relações entre Espiritualidade, Ética e Transformação Social

Pesquisador & Educador,
Jungley de Oliveira Torres Neto
Nesta edição especial do site da Promocred, trazemos uma conversa com Jungley de Oliveira Torres Neto, educador, doutorando em Ciência da Religião (UFJF) e pesquisador das relações entre espiritualidade, ética e transformação social. Com uma abordagem crítica e, ao mesmo tempo, profundamente esperançosa, Jungley reflete sobre como a fé pode ser uma força de mobilização para a construção de uma economia mais justa, humana e solidária.
Ao longo da entrevista, ele analisa temas centrais como a prosperidade entendida como bem comum, em contraste com a teologia da prosperidade; a crítica ao neoliberalismo religioso, que transforma a fé em produto de mercado; o papel do Papa Francisco, cuja trajetória propôs uma conversão econômica como dimensão espiritual e resgatou o compromisso ético da fé; as espiritualidades coletivas e práticas de resistência, como redes de apoio, hortas urbanas e bancos comunitários; e, por fim, o reencantamento do mundo como um chamado filosófico à reconstrução simbólica e ética da vida diante do colapso neoliberal.
Além de sua atuação acadêmica, Jungley é também colunista dos portais Educação Brasil e Acessa.com, onde compartilha reflexões sobre filosofia, ciência, educação e religião. Ele defende a valorização de práticas solidárias e coletivas como alternativas concretas ao individualismo e à lógica de mercado, fortalecendo a economia solidária como resposta ética aos desafios contemporâneos.
A seguir, confira os principais trechos dessa entrevista provocadora e inspiradora.
Como a teologia da prosperidade contribui para a legitimação das desigualdades sociais, e de que forma a economia solidária oferece uma alternativa ética e coletiva a esse modelo?
Na lógica capitalista contemporânea, o discurso da “prosperidade” tornou-se um mecanismo ideológico sofisticado que mascara estruturas de exploração e legitima desigualdades sociais por meio de uma moralidade religiosa seletiva. A teologia da prosperidade, amplamente disseminada por setores neopentecostais e absorvida pelo neoliberalismo espiritualizado, transforma a fé em ativo financeiro e o indivíduo pobre em culpado por sua miséria. Essa lógica desmobiliza a consciência coletiva e enfraquece a crítica social. Enquanto isso, a economia solidária, na contramão desse modelo, propõe uma ruptura epistêmica: retira a centralidade do eu-empreendedor e reconstrói o valor a partir do comum, do cooperativo e do enraizamento territorial. Nesse sentido, podemos citar o que Dussel chamou de “ética da libertação”: a ideia de que a justiça deve nascer da escuta das vítimas do sistema, não da lógica meritocrática dos vencedores. O papel do cientista da religião, portanto, é desnaturalizar o uso da religião como aparato de manutenção do status quo, denunciando sua captura pelo capital e propondo caminhos de resistência simbólica, comunitária e espiritual.
De que maneira o neoliberalismo religioso transforma a fé em mercadoria e quais os impactos dessa lógica na vivência espiritual das comunidades?
No cenário contemporâneo, assiste-se à consolidação de um neoliberalismo religioso, no qual a fé é transformada em produto e a espiritualidade em mercadoria. A “teologia da prosperidade” não é apenas uma deformação teológica, mas um fenômeno ideológico que sacramenta o mercado, convertendo Deus em CEO e os fiéis em investidores de sua própria salvação. Como já advertia Walter Benjamin, o capitalismo assume feições religiosas, exigindo culto permanente, sem expiação e sem redenção: um culto à performance, à produtividade, ao sucesso. A economia solidária, ao contrário, propõe uma ruptura com esse dogma: rompe com a lógica meritocrática e reinventa o valor a partir da reciprocidade, do território e da coletividade. Para o cientista da religião, a crítica a esse fenômeno exige mais do que a análise de doutrinas: exige o desvelamento das estruturas de poder que se disfarçam de fé. A espiritualidade que legitima a desigualdade é, na verdade, uma ideologia revestida de sacralidade, que anestesia os oprimidos e os convoca a se culparem por sua pobreza.
Como o Papa Francisco propôs uma reconciliação entre espiritualidade e justiça social, e qual foi o papel dessa visão na crítica ao sistema econômico de seu tempo?
Na contracorrente do catolicismo acomodado às benesses do poder e às alianças com o capital, o Papa Francisco emergiu como uma das vozes mais radicais e corajosas no cenário religioso contemporâneo. Suas encíclicas Evangelii Gaudium, Laudato Si’ e Fratelli Tutti compuseram um verdadeiro projeto de desnaturalização da economia global, denunciaram o sistema financeiro como uma estrutura de pecado e conclamaram a um “outro mundo possível”. O Papa Francisco resgatou o ethos profético da religião, reconectando espiritualidade com justiça social, fé com luta coletiva e Igreja com o chão dos pobres. Sua proposta não separou o “caminho espiritual” do “caminho econômico”; pelo contrário, demonstrou que a economia dominante era, antes de tudo, um problema teológico: ela construía deuses, sacrificava vidas e prometia salvação via consumo.
Com efeito, para a Ciência da Religião, essa inflexão foi central: o Papa Francisco recolocou o religioso no campo da disputa simbólica e política, não como doutrina, mas como força de mobilização contra um sistema que mata. Seu gesto foi hermenêutico: reinterpretar os textos sagrados a partir das dores dos descartados; e foi performativo: convocar os sujeitos históricos à insurgência ética.
De que forma as práticas coletivas e espirituais, como redes de apoio e hortas urbanas, funcionam como resistência concreta ao colapso social e econômico?
Na contramão da espiritualidade domesticada, individualista e de consumo rápido, que serve de válvula de escape à barbárie sistêmica, emergem formas de espiritualidade enraizadas na coletividade, no território e na partilha do sofrimento. Não se trata aqui de religião como consolo ou fuga, mas como potência política e estética que cria laços, refaz vínculos e sustenta a vida onde o Estado e o mercado se retiram.
Redes de apoio, comunidades de fé, hortas urbanas, bancos comunitários e mutirões populares — essas práticas não são apenas mecanismos de sobrevivência econômica. Elas expressam o que podemos chamar de uma mística do comum, uma espiritualidade encarnada na reciprocidade e no cuidado mútuo. Em um mundo onde impera a lógica da concorrência, tais práticas operam como frestas de outra racionalidade, onde o sagrado não está no templo, mas no gesto compartilhado.
Para a Ciência da Religião, a tarefa é tornar visível essa potência religiosa subterrânea, que resiste à lógica do capital e reinventa o viver em meio aos escombros. Como afirmaria Simone Weil: “onde há atenção e cuidado ao outro, aí há um vestígio do divino”. Em tempos de colapso ecológico, político e social, a espiritualidade que não se faz corpo-com-o-outro é cúmplice do colapso que finge lamentar.
O que significa “reencantar o mundo” no contexto da economia solidária, e como essa ideia pode influenciar práticas econômicas mais humanas e simbólicas?
A modernidade capitalista não apenas separou o trabalho da dignidade, mas também esvaziou o mundo de sentido, reduzindo tudo a recurso, número, performance e lucro. Nesse contexto, o chamado “reencantamento do mundo” não é uma nostalgia romântica, mas um ato radical de insurgência simbólica. Trata-se de recusar a lógica do desencanto neoliberal, que transforma sujeitos em cifras e a natureza em estoque, e de reconstruir formas de vida centradas no valor ético, e não na cotação de mercado.
A economia solidária, nesse horizonte, não é apenas uma alternativa econômica: é uma crítica prática à razão instrumental, um gesto filosófico que reinscreve o trabalho, o tempo e o vínculo no campo do humano. Como afirmam Dardot e Laval, “o comum é o nome político do que resiste à privatização da vida”. Reencantar o mundo significa restituir à experiência a sua densidade simbólica e comunitária, religando o fazer ao sentido, o esforço ao cuidado, e o corpo à terra. Em síntese, este é um chamado urgente: colocar o pensamento a serviço da reconstrução mais humana e ética.